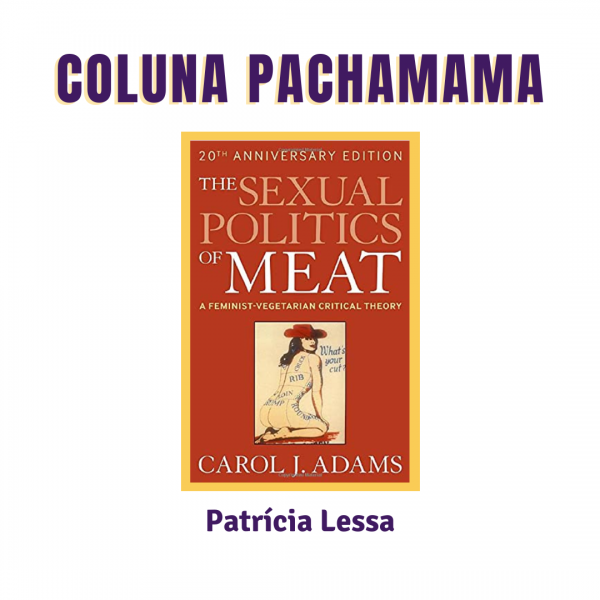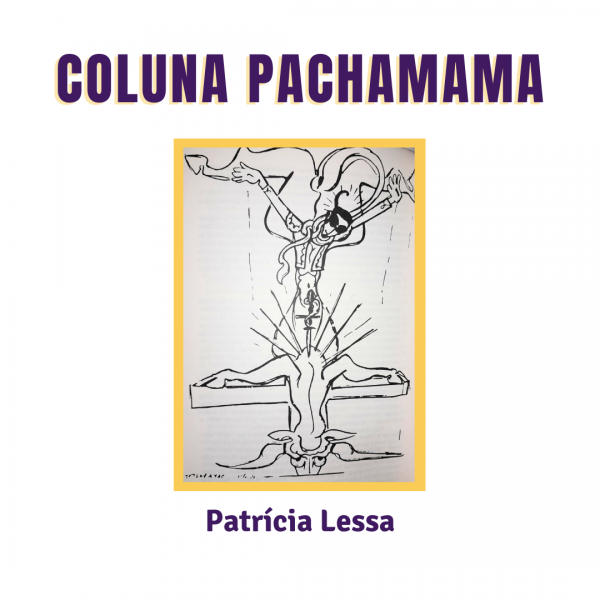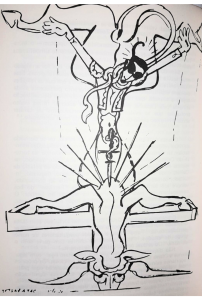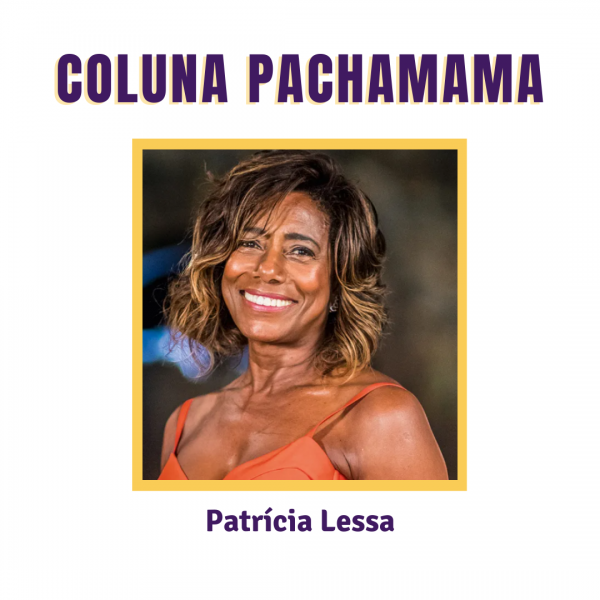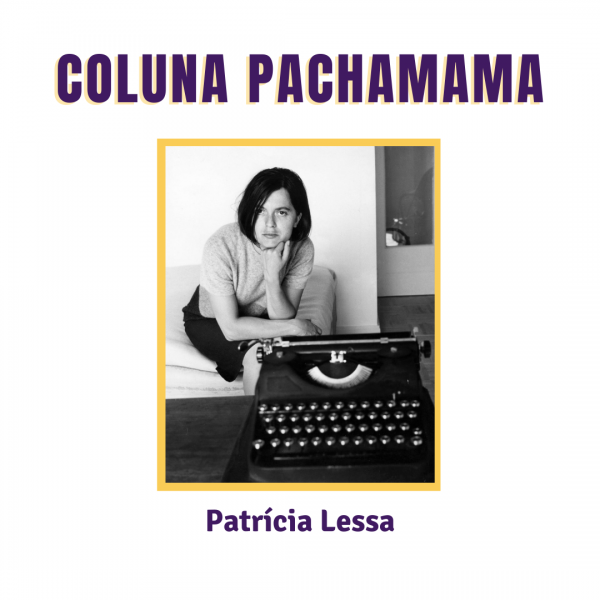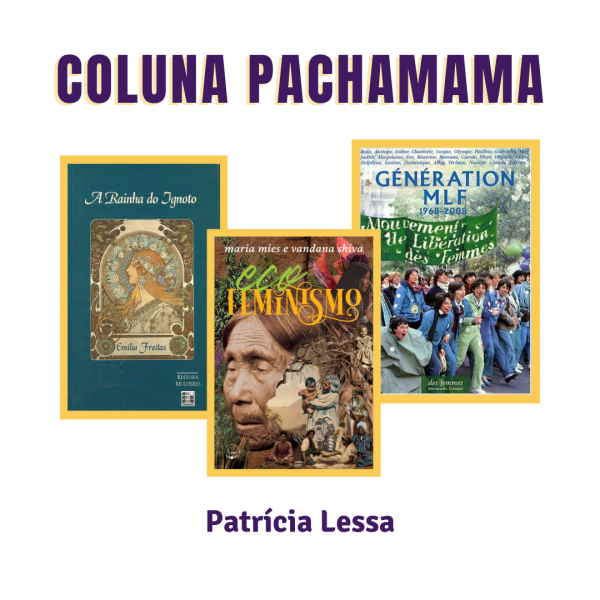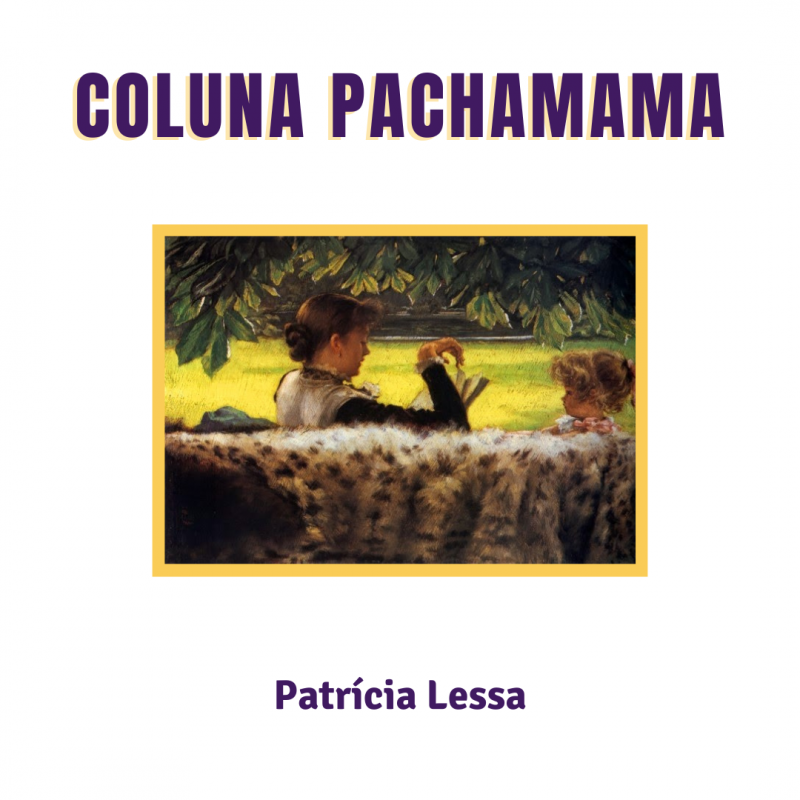Por que marchamos?
Por que marchamos?
“Esse é o resumo da nossa chegância. Mulherizar e indigenizar. Somos mulheres bioma, mulheres terra, água. Somos mulheres ancestrais.”
Célia Xakriabá
As mulheres, cis e trans, formam multidões marchando pelas ruas ao redor do mundo e adentrando nos espaços virtuais com muita criatividade, arte e ativismo social. As reivindicações são pontualmente localizadas ao sabor do tempo e da geografia. Nem todas se definem como feministas, mas, certamente, as feministas e/ou transfeministas ocupam lugares de destaque no agenciamento, na preparação e produção destes megaeventos sociais. Suas agendas são múltiplas: lutas por direitos, contra o feminicídio, contra o racismo, pela ecologia, pelos direitos dos povos indígenas, contra o estupro, pró-aborto legal etc.
Um ótimo exemplo foi a multidão que tomou as ruas de Buenos Aires, na Argentina, no dia 4 de junho de 2018, reivindicando mudanças na legislação que regulamentava a prática do aborto. Seu símbolo era o lenço verde e as vozes entoavam: “aborto legal no hospital!”. O lenço é emblemático naquele país. Lembremo-nos das Madres de la Plaza de Mayo (Mães da Praça de Maio). Elas formaram um agrupamento de mães em busca de seus filhos e filhas assassinados/as ou desaparecidos/as, no período entre 1976 e 1983, pelo terrorismo de Estado perpetrado na ditadura militar. O movimento começou silenciosamente, pois falar e protestar era arriscado. Foi então que as mães adotaram os lenços brancos como forma de se identificarem e se encontrarem clandestinamente para fugir da repressão, para trocarem informações e levarem suas demandas para a imprensa internacional. As mulheres de lenços verdes, assim como as mães de lenços brancos, escreveram um novo capítulo na história. Em dezembro de 2020, foi aprovada a lei de interrupção voluntária da gravidez nos hospitais da Argentina.
Muitos séculos antes das reivindicações na Argentina uma marcha além-mar marcou a história mundial. Cito a Marcha das Mulheres sobre Versalhes, realizada nos dias 5 e 6 de outubro de 1789. Aproximadamente 7 mil mulheres iniciaram o movimento no rumo do Palácio de Versalhes. Elas reivindicaram alimento para a população e mudanças constitucionais. A Revolução Francesa já estava em curso. O povo vivia na miséria e passava fome enquanto a nobreza e o clero ostentavam luxos absurdos. A notícia de um banquete em comemoração pela chegada de uma infantaria, que prometia proteger o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta, causou revolta popular especialmente entre as mulheres que não tinham pão para alimentar as suas famílias. Cerca de 20 mil pessoas aportaram nos portões do palácio exigindo mudanças sociais e alimento para o povo.
Anne-Josèphe Théroigne de Méricourt (1762-1817) foi uma das lideranças do movimento. Ela era uma campesina que havia participado da Tomada da Bastilha e, mais adiante, estaria na ocupação do Palácio das Tulherias. Seus discursos arrancavam aplausos da multidão. Ela dizia que era preciso levar “o padeiro, a padeira e o pequeno aprendiz” até Paris, fazendo referencia ao rei, a rainha e ao delfim. A ocupação em Versalhes foi sangrenta. Conta-se que aproximadamente 2 mil guardas tiveram as cabeças arrancadas e fincadas nos arredores do palácio. O rei, temeroso, assinou a afamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Alguns anos depois, em 1791, Olympe de Gouges (1748-1793), pseudônimo de Marie Gouze, escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. A declaração rendeu-lhe a morte na guilhotina e só foi, parcialmente, agregada a legislação nos anos 1980 – período marcado como a década dos direitos das mulheres, sobretudo, com o início das Conferências Mundiais da Mulher alavancas pela Organização das Nações Unidas (ONU). Muito se sabe sobre a Revolução Francesa, as cabeças dos nobres rolaram e a burguesia tornou-se uma classe de prestígio. No entanto, poucas pessoas sabem sobre a Marcha das Mulheres sobre Versalhes e o papel das lideranças femininas na insurreição e, em consequência, a abertura das portas para inclusão das mulheres como dignas de direitos.
Como havia escrito no início, cada lugar e temporalidade carrega suas bandeiras de luta. No dia 3 de abril de 2011 em Toronto, no Canadá, aconteceu uma manifestação transnacional a SlutWalk – divulgada no Brasil como Marcha das Vadias (MdsV). É importante recordar que as Marchas das Vadias tomaram as ruas do mundo depois de um estupro em que a vítima foi acusada pelo policial que a atendeu. Quando o agente judicial questionou sobre qual roupa ela estava vestindo no dia da violência sexual que havia sofrido, ele, automaticamente, a responsabilizou de seduzir o criminoso. A violência machista é reforçada e reafirmada no questionamento que se faz à vítima sobre suas roupas, local e horário de circulação na tentativa de demarcar o espaço público como local não apropriado para as mulheres, local perigoso, local de exclusiva circulação para os machos sedentos por sexo e sangue.
A MdsV sucedeu em um período de renovação nas ações marcadas pelos artivismos feministas, nestes os corpos das mulheres são territórios de paz e de luta social, tendo em vista que buscam o respeito e reivindicam direitos. A arte, o ativismo feminista e a educação libertária nos permitem, assim, entender que a construção de um mundo melhor passa pela pluralidade das vozes sociais, pela rebeldia como ato político e por práticas de resistência que podem ecoar rapidamente via redes sociais.
A MdsV para Margareth Rago, em sua obra A Aventura de contar-se: feminismos, escrita de si e invenções da subjetividade, “traz algumas novidades no modo de expressão da rebeldia e da contestação, caracterizando-se pela irreverência, pelo deboche e pela ironia. Se a caricatura da antiga feminista construía uma figura séria, sisuda e nada erotizada, essas jovens entram com outras cores, outros sons e outros artefatos, teatralizando e carnavalizando o mundo público”.
Um artivismo posterior, com a marca de uma geração que faz sua arte circular de forma veloz pelas redes sociais, causando impacto ao redor do mundo, foi a ocupação das ruas proposta pelas feministas do Coletivo Las Tesis, do Chile. No dia 25 de novembro de 2019, elas ocuparam as ruas e os espaços virtuais com a performance Un violador en tu camino. Mulheres cis e trans, nos dias que seguiram, ocuparam as ruas e praças na América Latina, em Paris, Nova Iorque, Madri, em muitas cidades brasileiras, dentre outros tantos sítios geopolíticos e virtuais. Com uma sequência de dança sincronizada e simples, com uma venda preta nos olhos, ao som de tambores, elas cantavam, entoando a frase “o estuprador é você!”. O artivismo feminista tornou-se, em poucos dias, uma ode contra o feminicídio, deixando a mensagem feminista novamente nas ruas e na web: “a culpa não é minha, nem de onde eu estava e nem de como me vestia”.
No Brasil a realidade social das mulheres é muito complexa. Lemos no site da Sempreviva Organização Feminista (SOF): “Uma mulher é morta a cada nove horas durante a pandemia no Brasil”. A Revista Afirmativa apresentou, em 2021, alguns dados alarmantes: 74,7% das vítimas de feminicídio têm entre 18 e 44 anos; 61,8% são mulheres negras; 81,5% são assassinadas pelos companheiros ou ex-companheiros; 8,3% são mortas por familiares e em 55,1% dos casos o assassino usa arma branca. Segundo o Observatório do Terceiro Setor, o Brasil ocupa o 2º lugar no ranking mundial de exploração sexual de crianças. Por ano são registrados mais de 500 mil casos de exploração sexual de crianças e de adolescentes. São mais de 1.369 casos por dia. Estima-se que somente 10% deles sejam notificados.
Devemos lembrar que o Brasil é um território coronelista e latifundiário, nas mega fazendas de sangue e de veneno existe toda ordem de barbárie: exploração sexual de crianças, trabalho análogo ao escravo, safaris clandestinos, narcotráfico etc. Segundo a Agência Patrícia Galvão, estima-se que somente 10% dos casos de estupro sejam registrados. A subnotificação ocorre por vários fatores, dentre eles: os estupradores são homens conhecidos, o criminoso ameaça a vítima e sua família de morte, a vergonha de ter o corpo violado etc. Levando o percentual em conta, seria em torno de 822 a 1.370 estupros por dia no Brasil. Importante registrar que, após o Golpe de Estado que destituiu a Presidenta Dilma Roussef e preparou a tomada do poder pelo narcogoverno, pela bancada ruralista e pela bancada evangélica, a violência sexual contra mulheres e crianças aumentou vertiginosamente. A liberação de armas de fogo foi o estopim para o aumento de assassinatos e favoreceu o narcotráfico. Violências fomentadas pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A relação de sua família com a morte de Marielle Franco ainda não foi esclarecida, muito embora alguns livros apontem a relação, como, por exemplo, Mataram Marielle: como o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes escancarou o submundo do crime carioca, de Chico Otavio e Vera Araújo.
Voltando para as marchas, destaco a Marcha Internacional Mundo de Mulheres por Direitos realizada em Florianópolis, Santa Catarina. Entre os dias 30 de julho a 4 de agosto de 2017, aconteceu o 13º Congresso Mundo de Mulheres (MM) e o 11º Seminário Internacional Fazendo Gênero no campus da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A temática do evento foi “Transformações, Conexões, Deslocamentos”. O MM foi realizado pela primeira vez na América do Sul. No quarto dia de evento, aconteceu a marcha que reuniu mais de 10 mil pessoas no centro de Florianópolis reivindicando direitos. Havia gente de todos os cantos do mundo levando as suas bandeiras de luta, suas artes, cores e sons para as ruas da capital da Ilha da Magia. Ao final do percurso, houve uma roda de dança circular com mulheres indígenas, que ritualizaram o momento cantando, dançando e queimando incenso. Quero destacar que Marielle Franco estava marchando entre nós. Quem é da luta não foge da caminhada!
E, por fim, quero contar do encontro de duas grandes marchas de mulheres que aconteceu em 2019. Trata-se da 6ª Marcha das Margaridas e da 1ª Marcha das Mulheres Indígenas. Do dia 9 a 13 de agosto, as mulheres indígenas reuniram diferentes povos em torno da temática: “Território: nosso corpo, nosso espírito”. E nos dias 13 e 14, a Marcha das Margaridas caminhou em luta e sororidade, reunindo as mulheres do campo, da floresta, das águas, as indígenas e as quilombolas. Seu tema foi “Margaridas na luta por um Brasil com Soberania Popular, Democracia, Justiça, Igualdade e Livre de Violência”. As ruas da capital federal foram tomadas por mais de 100 mil pessoas durante cerca de 4 quilômetros, houve uma concentração na Esplanada dos Ministérios com diversas atividades. A imagem que ilustra este texto é deste encontro sublime e marcante na história deste país.
Em 2023, a Marcha das Margaridas será realizada em Brasília nos dias 15 e 16 de agosto e terá como lema a reconstrução do Brasil. Estima-se que serão mais de 150 mil pessoas reivindicando e lutando por um país mais justo e igualitário, com redução da violência e alimento para todas as bocas. As mulheres caminham irmanadas há séculos em todos os rincões do planeta, buscando por justiça social, direitos e pela abolição do feminicídio, da pedofilia e do estupro. Espera-se que os homens cis/hétero evoluam e consigam entender que somos multidão e não vamos parar de andar na direção de um mundo melhor. Retomando a frase inicial de Célia Xakriabá, vamos mulherizar o Brasil com a nossa chegância honrando as nossas ancestrais. Respondendo à questão do título: marchamos pelas irmãs que lutaram por nós, marchamos pelas que lutam pela vida, pelas nossas vidas, marchamos pelas que virão.
_____________________________________________________________________________________________________________________
 Patrícia Lessa – Feminista ecovegana, agricultora, mãe de pessoas não humanas, pesquisadora, educadora e escritora.
Patrícia Lessa – Feminista ecovegana, agricultora, mãe de pessoas não humanas, pesquisadora, educadora e escritora.